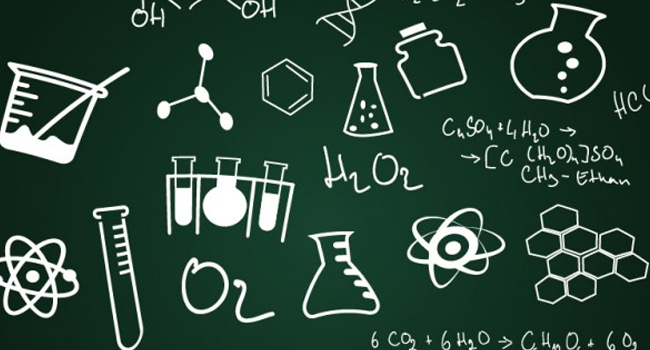Muita gente sabe desta história. Quem me conhece, ou já me ouviu falar em palestras sobre Ciência, certamente vai se lembrar. Na verdade, uso deste delicioso e rico incidente com que a vida me brindou um dia, sempre que discuto o saber científico e a iniciação de nossos alunos no mundo da ciência. E, hoje, sentindo que vale a pena falar sobre aulas, cursos e ensino das ciências, não farei diferente. Vou falar do debate – sobre astrofísica – que tive com minha filha Júlia quando ela tinha somente sete anos de idade.
Tudo se passou num sábado à tarde, quando íamos, eu, meus dois filhos e a mãe deles, para a cidade de Rio Claro, visitar nossas famílias – já que todos os nossos parentes residiam lá. E tudo aconteceu exatamente no intervalo de tempo, desde o momento em que iniciamos a viagem de carro, dos primeiros quilômetros após a saída de São Paulo, até o instante em que parávamos em frente à casa de minha mãe. E a história começou a partir de um comentário meu.
Já era final de tarde e, ao olhar à minha esquerda enquanto dirigia, deparei-me com um por de sol desses de fazer a gente deixar tudo de lado para contemplá-lo. É aquela história de ver o máximo até que se acabe. Degustar até ficar empanturrado do sabor da natureza. E não deixei de convidar aqueles que me eram queridos para o banquete.
“Vejam, que lindo! O sol está caindo. Daqui a pouco, ele se esconde, dá a volta ao redor da Terra e só retorna, do outro lado, amanhã bem cedinho.” Todos olharam e se admiraram, mas minha filha não se conteve e me corrigiu com olhar e voz de puro desdém. “Pai! Você não sabe que não é o Sol que dá a volta na Terra, mas ela é que gira, e a gente tem a impressão de que foi ele que andou? Você não aprendeu isso? Onde foi que você estudou?”
Naquele momento, senti que estava diante de uma grande oportunidade de fazê-la pensar. Mas, pensar de verdade. Então, comecei um jogo divertidíssimo, do qual sei que ela adorou participar. Foi simples. Respondi: “não, filha, é o Sol! É ele mesmo! Não há nenhuma evidência de que seja o que você está falando. Isso é bobagem. Se fosse a Terra, a gente perceberia.” Mantive-me sério e, para minha tranquilidade, percebi que sua mãe e seu irmão também resolveram deixar o jogo correr e só ficaram observando. E o diálogo foi rico. Fértil e duradouro. Um verdadeiro debate científico. Senti-me em pleno século XVII, numa sala qualquer da Inquisição. Mas, estava do outro lado. Coloquei-me os trajes jesuítas, o saber peripatético e ataquei.
“Veja uma coisa: você sente a Terra girando? As coisas deveriam cair por causa do movimento da Terra, não?” E ela, impassível, continuava: “Não importa, eu sei que ela se move; a gente é que não percebe”. E eu não dava trégua. “Então, se estivermos num helicóptero a uns dez metros de altura, nem precisaremos correr, pois os países irão passando por debaixo de nós: Você acredita nisso? As águas dos mares, então! Já teriam inundado a terra e não haveria nada mais que peixes.” Apesar de não conseguir demonstrar que estava certa, quebrando meus argumentos, tentava criar saídas para as minhas questões. E eu notava que ela parava, ficava em silêncio, parecia estar articulando alguma ideia e vinha com alguma pretensa prova de que estava certa. Parecia estar segura de que tinha razão, mas tentava encontrar algum argumento que me destruísse. Mas eu não me deixava bater.
“Você já jogou algum objeto para cima, alguma vez, não foi?” “Sim”, ela me respondeu. “Então, Júlia, você pode me dizer se ele voltou à sua mão?” Num gesto de desânimo, que me mostrava que estava pensando muito e percebera outro golpe mortal, declarou: “claro que volta, pai!” Então, comecei a me valer das saídas aristotélicas que propunham – no século XII – que se a Terra estivesse mesmo em movimento, as coisas que jogamos para cima não retornariam às nossas mãos, pois andaríamos com a superfície do planeta e, quando chegasse ao chão, o objeto já estaria bem longe de nós. Ela procurava inutilmente alguma forma de me contradizer. Ao invés de desistir, porém, continuava tentando. Tentava se defender das possíveis falsas afirmações, dos possíveis erros de avaliação do todo, das aparências enganadoras. Queria provar! Fora informada de algo – e até sentia que eu estava jogando – mas não sabia explicar por que aquilo não era falso. Ao final da discussão, já quase exausta, declarou: “foi a moça do laboratório de ciências que ensinou isso pra gente!” Os risos foram muitos e eu a elogiei bastante, pois fora, durante quase duas horas, uma cientista. Fora valente, obstinada e não desistir de buscar a verdade. Apesar de querer estar com a razão, não havia sido autoritária e respeitou as regras do diálogo. Uma tarde inesquecível para todos nós. E essa conversa ainda renderia mais outros tantos diálogos científicos entre nós. Mas, e hoje? Por que estou contando tudo isso?
Acontece que enfrentei, naquela tarde, um dogmatismo invertido. Explico. Eu, que fazia o papel do inquisidor, na verdade, proporcionava o diálogo, e ela, ao contrário, tentava defender as “verdades”, os “dogmas” que aprendera na escola. Afinal, assim como acontece com a grande maioria de nossos estudantes da educação básica, ela estava recitando falas ensaiadas, decoradas ou, até mesmo, incorporadas, porém sem qualquer exercício anterior de problematização e dúvida. Apesar de frequentar uma boa escola, nas aulas de ciências, não estava aprendendo a fazer ciência, nem a pensar cientificamente. Apenas havia incorporado informações, partes do conteúdo das ciências. Sabia das descobertas, das invenções e até fazia afirmações, com apenas sete anos, sobre situações que remetiam a conceitos muito atuais. Mas, não tinha, no cotidiano de suas aulas, a prática da investigação científica. E por que isso?
Talvez pela velha razão de sempre. A escola parece funcionar como um banco, de onde são sacados ou depositados “conhecimentos”. O cérebro de nossas crianças, desde cedo, vai se abarrotando de informações e conteúdos científicos, vai se condicionando a memorizar, a repetir. Como um sistema de computador, basta acionar uma palavra chave e a resposta vem imediatamente. Mas, isso é ciência?
Se observarmos a história, veremos que a ciência sempre aconteceu à margem das verdades estabelecidas. No plano religioso, no político e até naquilo que durante muitos séculos se chamou Filosofia da Natureza, as pessoas sábias sempre trabalharam com verdades à ponta da língua. E, durante muito tempo, ai de quem deturpasse o que era tido como verdadeiro. Algo parecido com o que acontece em aulas – ou provas – de ciências, hoje. E quem eram os sábios que poderíamos qualificar, hoje, de cientistas?
Aqueles que questionavam as verdades por acharem-nas inconsistentes. Que tentavam encontrar modelos novos para sustentar os conceitos que se quebravam. Ou, até mesmo, os que viravam tudo de pernas para o ar e se arriscavam em novas conceituações. Havia perseguições e até mortes para quem ousasse discordar das explicações que a “ciência” da época canonizara. A postura de cientista era algo arriscado; para poucos. Atividade desenvolvida nos porões, em esconderijos, nos lugares onde os dogmas não batiam. Tais intelectuais eram pessoas rebeldes, seres que sacrificavam suas vidas para descobrir ou provar algo novo. Havia, sim, como em tudo o que o humano faz, muita politicagem e corrupção envolvendo descobertas, invenções ou novas explicações para fatos e fenômenos da natureza. Mas, à ciência pertencia o papel de destruidora de certezas e criadora de novos caminhos.
Porém, hoje, nas aulas de ciências – por conta de uma rede de interesses, via de regra, associados à indústria do vestibular – a impressão que se tem é de que as crianças aprendem a repetir – e até explicar – as verdades da ciência. Aprendem muito bem os conteúdos; mas a postura do cientista, sua inquietação, seu desejo do novo parecem ficar reservados às aulas de história. Os laboratórios têm a missão sublime – não é ironia – de mostrar como as coisas realmente acontecem. Porém, não há laboratórios de dúvidas, de suspeitas nem de indignação, por exemplo, com nossa sociedade desigual, violenta, faminta e absolutamente aceita e valorizada por todos. Não sei se estou exagerando, mas as aulas de ciências servem para que somente ensinemos conteúdos científicos. E criar cientistas talvez seja perigoso.
E àqueles que se indignam, se surpreendem ou desconfiam ao longo da vida, talvez uma postura menos dogmática, parecida com a de um verdadeiro cientista, possa florescer. Mas, depender da contingência ou da sorte pode não ser um caminho recomendável. Não é sempre que nos deparamos com um por de sol que nos encanta, espanta e nos faz despertar.
Atua ainda como diretor do ABC Dislexia (com atendimento a alunos, consultoria, cursos e palestras em Educação), além de consultor do MEC (Ministério da Educação) em Filosofia para a TV Escola – programas “Acervo” e “Sala de Professor”. Foi diretor do Colégio Santa Maria, em São Paulo; coordenador pedagógico do Colégio Franciscano Pio XII (também em SP); e diretor do Espaço Ágora – Terapêutico e Educacional.
Trabalhou como engenheiro daFlender Latin American – consultor no Chile, e escreveu e lançou o livro de poesias “Inventário de mim” (Ed. Scortecci) .
Mais informações: joao@abcdislexia.com.br ; www.abcdislexia.com.br