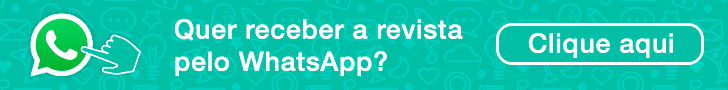Para que nunca se repita

Durante vários anos, ministrei aulas de Filosofia da Educação em cursos de Pedagogia. Invariavelmente, na primeira aula, apresentava o texto de Theodor Adorno, “Educação após Auschwitz“[1]. Logo de cara, meus alunos percebiam que minha preocupação era demarcar um certo território. Em outras palavras, estava querendo dizer a todos que de nada valeria educar e ensinar se não tivéssemos – por detrás de nossas ações – o questionamento sobre para quê estaríamos fazendo aquilo. No texto, o velho mestre da Escola de Frankfurt nos assinalava que erros do passado não podem mais ser cometidos. Mais que isso, era dever do educador trabalhar para que germes de antigas tragédias e genocídios não proliferassem. Muitas discussões, muitos debates e os alunos acabavam por se apaixonar pelo texto. Partia, então, para as próximas aulas com fôlego total. E seria leviano de minha parte dizer que meus alunos não faziam de nossos encontros momentos prazerosos para todos. As turmas adoravam Filosofia.
Acontece que, na última segunda-feira, dia seguinte ao segundo turno da eleição presidencial, procurei o velho texto como se tivesse extrema urgência em relê-lo. Queria que Adorno me desse algum colo, pois sentia-me deprimido e quase em desespero. A razão não é difícil de ser entendida. Bastou que entrasse no meu Facebook, já no domingo à noite, para que um pânico sem precedentes viesse me assaltar. Um turbilhão de violência verbalizada. Eram dezenas e dezenas de mensagens de indignação – postadas por parte dos eleitores do candidato derrotado – contra o povo nordestino.
Pelos relatos dos jornalistas naquela noite, para a vitória da atual presidente havia sido determinante a esmagadora votação obtida (por ela) nos estados do norte e do nordeste. Apesar de, matematicamente, a votação ter sido fortemente influenciada pelos eleitores do estado do próprio candidato derrotado, a ideia era de que o nordeste havia dado mais quatro anos a Dilma Rousseff. E, então, muitas pessoas não se aguentavam. Brigavam, xingavam, esbravejavam. Até ai, porém, nenhum problema. Já vimos isso muitas vezes em certas finais de Brasileirão. O problema, entretanto, estava na maneira como as pessoas se exaltavam. Foi terrível! Mentira: está terrível! A coisa continua.
Frases de cunho fascista, como “povo maldito, fora daqui!”; “cambada de vagabundos”; “escória, voltem para sua terra e nos deixem em paz”. Discursos inflamados, pedindo a separação do Brasil em dois países, do sul e do norte. Jornalistas famosos, em tom sério, afirmando que realmente o nordeste é como uma nação à parte, mais pobre, desorganizada e cheia de problemas. E algo que me aterrorizou mais que tudo. Alguém publicou que “o povo nordestino está acabando com a economia do Brasil”. [Nesse instante, senti que alguma coisa havia falhado nas iniciativas dos professores que, como eu, haviam confiado e compartilhado os pensamentos de Adorno e de tantos outros.] Esta fala categórica e exaltada fora a mesma que, na década de 30, praticamente conclamou o povo alemão para voltar-se radicalmente contra os judeus. É um argumento muito forte, pois a economia determina a própria vida das pessoas. O que deu errado? Estou sendo paranoico, exagerado?
Em seu artigo, Adorno afirma que não há nenhuma preocupação maior, dentro da educação, que impedir que Auschwitz se repita. Entretanto, lá pela década de 60 do século passado, já afirmava também que “apesar da não visibilidade atual dos infortúnios, a pressão social continua se impondo. Ela impele as pessoas em direção ao que é indescritível e que, nos termos da história mundial, culminaria em Auschwitz“. Exemplos disso? Pessoas assassinadas, ainda hoje, de maneira planejada, em todos os lugares do mundo. Armas são as mercadorias mais vendidas no planeta. Guerras e genocídios são temas de jogos eletrônicos infantis. Vez por outra nos “surpreendemos” com gente que assassina dezenas de pessoas e se mata em seguida – e, coincidentemente ou não, em escolas. Inimigos estão presentes em toda parte, seja em crenças religiosas ou até em jogos de futebol. E a inimizade, hoje, salvo novo exagero, tem a forma de ódio. Dois adversários políticos se odeiam da mesma maneira que palmeirenses e corinthianos ou brasileiros e argentinos – nas canchas esportivas. Os pobres já são estorvo em aeroportos, pois, como escutei outro dia, “antigamente, esses ambientes eram melhor frequentados”. Será delírio pensar, hoje, que “nossa sociedade, ao mesmo tempo em que se integra cada vez mais, gera tendências de desagregação”?
Fico pensando em nossas escolas. Formam indivíduos com excelência acadêmica e aptos para o mercado de trabalho. Porém, estarão fazendo sua parte na prevenção para que barbáries não se repitam ou se renovem? Será que podemos afirmar que, entre aqueles que se enfurecem contra os nordestinos, não há nenhum professor ou diretor de escola? Os famosos bullyings não seriam pequenas células de intolerância que nossas crianças aprendem nas escolas? Como explicamos as cenas de violência cometidas por jovens de classe média contra moradores de rua? Onde despertaram para tanto ódio? Não podemos nos esquecer que, graças a uma importante preocupação de cidadãos e estado, nossas crianças e adolescentes passam grande parte de seu dia na escola.
Adorno tinha preocupações com a educação infantil, pois é lá onde tudo começa. Dizia ele que, certamente, as coisas nunca serão melhores enquanto uma consciência crítica não fizer parte declarada dos currículos escolares. Isto quer dizer: aprender a não pensar de qualquer jeito. Aprender a não ser engolido pela goela esfomeada da tal economia de mercado, que nos cega e tudo permite desde que os lucros sejam maximizados. Em outras palavras, educar para a não barbárie.
Mas, onde é que se faz isso, de verdade? Não dá para afirmar que não tenhamos escolas diferenciadas – onde estudantes sejam mais educados para questionamento e visão crítica de mundo do que é usual. Sem dúvida, existem. Mas de que percentual estaremos falando? Que preparação têm os professores, na maior parte das instituições, para criar ambientes de verdadeiros questionamentos? E quais os critérios que os gestores estipulam para contratar os profissionais que educarão os nossos filhos? Como se dá a relação entre escolas e famílias? Quantas vezes iniciativas de professores, de trazer discussão sobre temas fortes e profundos para a sala de aula, não são sufocadas em razão do cuidado em “não mostrar coisas pesadas aos nossos filhos”? Temos feito realmente o melhor por eles?
E, por falar em famílias, qualquer um de nós que se aventure pelos pátios das escolas – inclusive as de educação infantil – fatalmente ouvirá, aqui e ali, frases ou gestos preconceituosos. E, nos últimos dias – e dou testemunho, aqui, disto -, é possível, sem dúvida ouvir coisas que batem com as tais frases do Facebook. De onde vêm essas falas? Por que isto acontece? E o que fazem os educadores quando percebem insistentes manifestações de preconceito, agressividade e discriminação em certos alunos? Que trabalhos fazem as escolas – palestras, cursos, seminários – para os pais, no sentido de esclarecer sobre o que não é conteúdo puramente acadêmico, mas que também forma pessoas – e até de maneira mais profunda e dramática? Estaríamos vendo essa barbárie toda desfilar nas redes sociais se estivéssemos minimamente preparados para aquilo que ensinamos (ou não) juntamente com equações, análises sintáticas ou leis da física?
Recentemente, por ocasião da copa do mundo duas cenas me chocaram. Uma delas, a forma grosseira e autoritária com que pessoas se dirigiram a uma autoridade de estado. Não pela crítica – que é legitima e salutar -, mas pela maneira violenta e desdenhosa como aconteceu. Ali, decididamente, não se fazia política engajada e transformadora. Outra coisa, talvez mais grave, apesar de menos eloquente: as inexplicáveis expressões guerreiras de jogadores e torcedores, enquanto entoavam, aos berros, o hino nacional. Não sei! Talvez seja outro dos meus exageros. Mas, já vimos coisas assim pela história. E os finais não foram felizes.
Para quem educa, creio que este seja um novo desafio posto. Não me lembro de uma eleição ter causado tamanha divisão entre as pessoas. Tanta ira e tanto ódio. De repente, as pessoas perderam os escrúpulos, os limites e a vergonha de se exporem – ninguém mais enrubesce ao demonstrar autoritarismo em público. Isso tudo é novo, ou, pelo menos, tem nova forma. Porém, o que preocupa mais é justamente aquilo que já vem de longe, e que pode ter sido cultivado latentemente, sem que percebêssemos. Seria triste percebermos que estamos focando exageradamente em saberes que poderiam ser secundários. E o que é pior: a possibilidade de estarmos contribuindo, cada vez mais, para que o nosso educando passe pela escola sem perceber justamente aquele que seria o maior dos aprendizados.
[1] O texto encontra-se digitalizado. http://adorno.planetaclix.pt/tadorno10.htm
 Prof. João Luiz Muzinatti é Mestre em História da Ciência. Engenheiro, é também professor de Matemática, Filosofia e Ciências em nível de graduação, pós-graduação, e Ensino Fundamental e Médio.
Prof. João Luiz Muzinatti é Mestre em História da Ciência. Engenheiro, é também professor de Matemática, Filosofia e Ciências em nível de graduação, pós-graduação, e Ensino Fundamental e Médio.
Atua ainda como diretor do ABC Dislexia (com atendimento a alunos, consultoria, cursos e palestras em Educação), além de consultor do MEC (Ministério da Educação) em Filosofia para a TV Escola – programas “Acervo” e “Sala de Professor”. Foi diretor do Colégio Santa Maria, em São Paulo; coordenador pedagógico do Colégio Franciscano Pio XII (também em SP); e diretor do Espaço Ágora – Terapêutico e Educacional.
Trabalhou como engenheiro daFlender Latin American – consultor no Chile, e escreveu e lançou o livro de poesias “Inventário de mim” (Ed. Scortecci) .
Mais informações: [email protected] ; www.abcdislexia.com.br